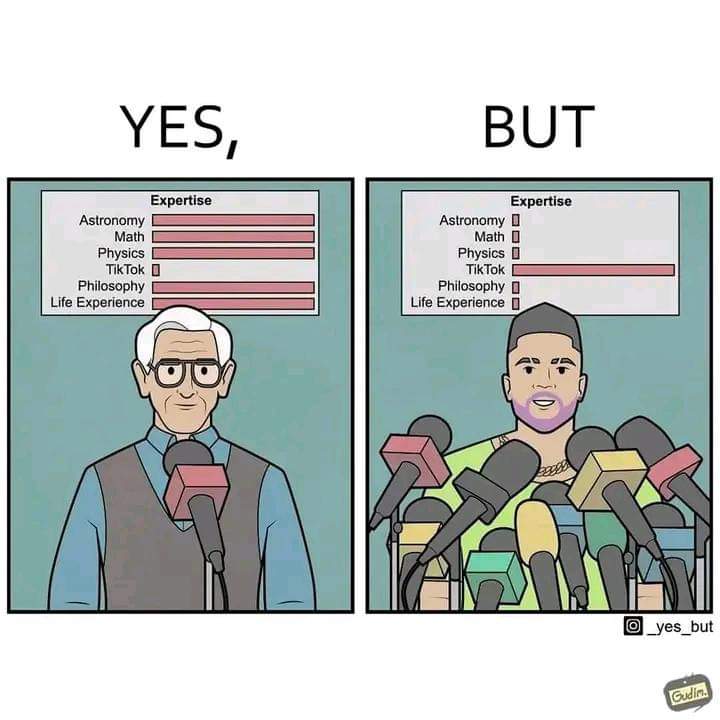“À memória de meus pais que nostalgicamente memoro como exemplos de afeição, labor, retidão, companheirismo e espírito de sacrifício.”
No século XX verificava-se, anualmente, grande mobilidade geográfica de pessoas à procura de vida melhor ou de trabalho sazonal.
Da região da Beira Baixa saíam ranchos de homens, “as maltas” em direção ao Alentejo e ao Ribatejo para as ceifas, para as vindimas ou para a apanha da azeitona.
Emigravam por vários motivos, mas o principal era a procura de trabalho e alguns escudos noutros locais menos carentes.
As pessoas residentes em Oleiros eram pobríssimas e as chances de trabalhos perenes eram pontuais.
Assim, muitos tinham que recorrer, para sobreviver, às situações de trabalho sazonal, como as ceifas, as vindimas e a apanha da azeitona.
As ceifas.
Eram realizadas no Alentejo e em Espanha. Há narrativas dos jornais do início do século XX, nomeadamente, “A Alvorada”, de 6 de agosto de 1924 e de 29 de junho de 1926, respetivamente.
Assim, por um período de aproximadamente de 2 meses os ceifeiros oleirenses, em harmonia de espírito, por valentia, à força das condições adversas e ao peso do afastamento geográfico e social iriam sentir no corpo e na alma esse trabalho árduo e agreste que, diga-se em abono da verdade, já viviam no seu dia-a-dia. Centenas e centenas de braços cuja totalidade comporia uma grande legião dividiam-se em muitos agrupamentos ou camaradas de cinquenta a cento e tantos indivíduos, de antemão recrutados pelo respetivo “manajeiro” a quem competia recrutar e dirigir o trabalho da ceifa. É curioso que ao deixarem as suas terras iam recebendo apelidos consoante a região para onde se dirigiam: os que vinham das Beiras, com destino à ceifa no Alentejo, espera-os ali a alcunha de ratinhos, mas os que por lá ficavam o ano inteiro já eram conhecidos por ganhões.
As vindimas.
Se o destino dos nossos antepassados os levasse para as vindimas para a zona de Almeirim, recebiam o lindo nome de “caramelos”. Também eram apelidados de barroas e barrões aqueles que vinham para a apanha das uvas e chegavam nos meses de agosto e setembro, no tempo em que o fruto estava pronto para colher e ser colocados no lagar onde os bagos de uva seriam esmagados.
A apanha da azeitona.
Se a tarefa fosse a colheita nos grandes olivais ribatejanos que produziam o denominado “ouro da terra” cá, pelo Ribatejo, aparecia a visita dos ranchos de barrões e barroas, mestres na apanha deste fruto.
Recordo-me, com saudade, dos contos e histórias, nas noites longas de inverno de volta da fogueira, dos meus saudosos pais contarem as suas memórias da apanha de azeitona na Serra de Tomar, e de quanto aqueles pretéritos acontecimentos faziam parte da sua fascinação e da sua lembrança.
Os barrões e as barroas, que demandavam para as paragens de onde hoje escrevo, chegavam das terras do barro, daí a sua alcunha. Vinham de Pombal, Figueiró dos Vinhos, Pedrógão Grande, Sertã e Oleiros. Numa viagem muitas vezes a pé, com os parcos haveres às costas ou à cabeça. Essas imagens, dos nossos abnegados ancestrais, mostram bem a sua resistência e raça!
Alguns tinham “comedorias” (alimentos), mas a maioria tinha unicamente o salário, “a féria”, como era designada localmente o pagamento.
Estes e estas migrantes residiam na Casa da Malta ou Quartel. Normalmente estas casas não tinham grandes comodidades e localizavam-se quase sempre fora das vilas ou cidades.
O contrato com os barrões era feito através de correspondência com o capataz que reunia os trabalhadores no local de origem.
Na Casa da Malta ou Quartel organizavam-se os bailaricos ao fim-de-semana, que ficaram conhecidos entre as gentes do Ribatejo como o baile dos barrões.
O velho harmónio ou a gaita de beiços, nome que era dado à harmónica bocal, eram os instrumentos suficientes para uma noite bem cantada e dançada.
O acesso à bailação era rigoroso, mas dava para arranjar os célebres namoricos a que os avós destas bandas vieram a chamar, “os amores da azeitona”.
Finda a safra, preparava-se a despedida que dava pelo nome de “filhoses”. Na ementa desse dia não deixava de constar uma farta caldeirada de borrego com batatas, regada com o melhor vinho do lavrador.
Naquele tempo existia uma grande bandeira feita com papel de seda, aonde era testada a habilidade da nossa boa gente trabalhadora. Esta era transportada até à residência do patrão. Harmónio à frente, com o capataz a enfileirar o grupo, sobressaía o rigor dos fatos domingueiros.
No ar pairava esta cantiga:
“Acabou-se, acabou-se a azeitona
Esta terra vai-nos no coração
Muito obrigado à senhora Dona
E a vocemessê, Senhor Patrão.
E para o ano se Deus quiser
Eu por mim, já trago o meu homem
E eu se por cá vier
Também já trago a minha mulher.
E se não tivermos acento
Cada um de nós, já traz um rebento”.
E perante este gracejo, era feita a entrega da Bandeira, cujo Patrão depois de sorrir, não deixava de dar uma razoável oferta.
Os migrantes que vinham trabalhar para o Ribatejo não se fixavam aqui, a não ser uma ou outra rapariga ou rapaz que por aqui casasse. Todos os outros partiam para as suas terras de origem quando acabavam os trabalhos agrícolas.
A vida era difícil, muitas eram as privações que passavam as gentes que vinham para estes territórios mais férteis.
Estas dificuldades ficaram bem expressas no cancioneiro de Alpiarça através de algumas quadras que destaco:
“Quem me dera lá na terra
À sombra da barraquinha
P’ra contar à minha mãe,
O que passei na vindima
Quem me dera lá na terra,
À sombra da mangerona,
P’ra contar á minha mãe
O que passei na azeitona”.
Os trabalhadores que vinham de fora trabalhavam geralmente em ranchos separados dos naturais.
As condições de trabalho também eram diferentes, os trabalhadores de fora trabalhavam em situações muito piores. Os naturais, olhavam-nos com superioridade, consideravam-se muito acima deles. Porém, aceitavam as migrações sem revolta, porque compreendiam que, de modo algum, eram insuficientes para os trabalhos que o campo exigia.
No Alentejo já não era assim. Cito José Saramago, prémio nobel da literatura em 1998:
“Estão agora dois grupos de trabalhadores frente a frente, dez passos cortados os separam. Dizem os do norte, Há leis, fomos contratados e queremos trabalhar. Dizem os do sul, Sujeitam-se a ganhar menos, vêm aqui fazer-nos mal, voltem para a vossa terra, ratinhos. Dizem os do norte, Na nossa terra não há trabalho, tudo é pedra e tojo, somos beirões, não nos chamem ratinhos, que é ofensa. Dizem os do sul, São ratinhos, são ratos, vêm aqui para roer o nosso pão. Dizem os do norte, Temos fome. Dizem os do sul, Também nós, mas não queremos sujeitar-nos a esta miséria, se aceitarem trabalhar por esse jornal, ficamos nós sem ganhar.”
Este rancor entre alentejanos e beirões, é retratado no livro “Levantado do Chão” – uma autêntica epopeia do Alentejo – terra desventurada, onde a exploração garantia a abundância dos grandes proprietários. Com a chegada dos ratinhos a jorna dos locais baixava de valor o que provocava insatisfação entre os alentejanos.
No Ribatejo isso não acontecia. Os migrantes, essa gente laboriosa que passava épocas na rijeza nos trabalhos sazonais interagiu com as populações, poucos vieram a constituir família e por aqui deixaram alguns termos ou gírias e algumas raízes do seu rico folclore, como o demonstra estes versos do reportório do Grupo Folclórico os Pescadores de Tancos, de Vila Nova da Barquinha:
“Terra de grande ousadia
Onde tudo vem um dia.
Fica a gente, o vento passa
Todos lhe acham encanto e graça
Para não mais partir.
Suas gentes, daqui e dali
Trazem costumes como nunca vi
E por muito que corra e queira
Não encontro gentes desta maneira
Sempre a cantar, sempre a sorrir.”
Quando acabavam de transportar a azeitona para o lagar, em carros de bois e carroças de burros e mulas, os ranchos de barrões que vinham prestar serviço a Vila Nova da Barquinha costumavam dedicar a seguinte quadra ao respetivo patrão:
“Viva lá nosso patrão
E o seu colete de ilhoses
Nós vimos cá pró ano
Se nos der dos seus filhoses.”
Por fim, dedicavam também uma quadra ao capataz:
“Viva o rancho, viva o rancho
Desde a ponta até ao cabo
Viva o nosso capataz
Que é como a folha do cravo.”
Fontes:
Mação, Helder Vitória – Tancos; etnografia e folclore, Câmara Municipal de Vila Nova ad Barquinha, 1991
Jornal Novo Almourol, nº 262, janeiro de 2003.
Livro de Atas do II Encontro de Cultura Popular do Ribatejo. Edição do Município de Vila Nova da Barquinha, novembro de 2021
Foto de Joaquim Garrido: “Descarregar as uvas à unha na Chamusca. Os pés descalços, os baldes de folha zincada, os corpos magros e as calças remendadas com retalhos, naquele miúdo pequeno e franzino, que espera o enchimento do seu balde olhando a forquilha!”