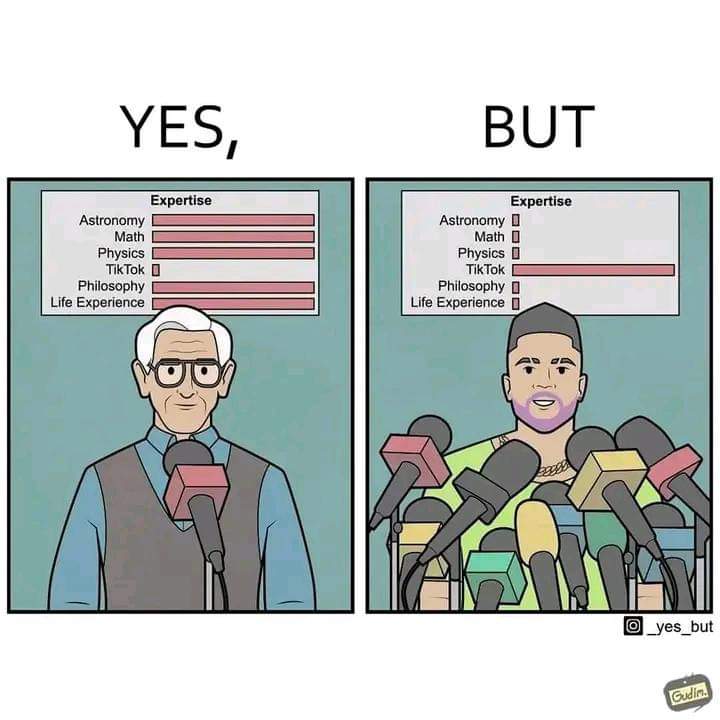“A Magia Está no Som” – Entre o Ceticismo e a Experiência
Descrição Etnográfica Sobre uma Sessão de Umbanda
Este é um texto adaptado, originalmente escrito para a disciplina de Etnomusicologia e Estudos em Música Popular da Universidade de Aveiro, lecionada pelo Professor Jorge Castro Ribeiro. O desafio lançado consistia em colocar-nos a nós – estudantes de Etnomusicologia – em contacto com uma realidade que nos fosse estranha, e que incluísse música. Decidi participar numa sessão de uma prática espiritual afro-brasileira – a Umbanda -, que acontece todos os meses a cerca de 20 minutos do local onde vivo e sobre a qual não sabia nada. Esta foi a minha experiência.
Março de 2025
1. Lugar de Som, Lugar do Espírito, Lugar de Fala
Nem os anos de palco, nem a minha um pouco mais que ocasional exposição ao público me valeram de muito para atenuar o nervoso miudinho. Cheguei à porta do Templo da Umbanda – um anexo discreto de uma faixa de terreno nos arredores rurais de Aveiro – e senti-me desconfortável. Os presentes, entre 25 a 30 pessoas, esperavam calmamente a hora da abertura do portão cinzento. Sente-se já uma batucada abafada nas proximidades, mas por mais que a minha curiosidade me levasse os olhos para a cerca de cedros o mistério só aumentava com os ocasionais vultos da passagem de algumas pessoas vestidas de branco. Não havia qualquer hostilidade nesta espera, nem olhares inquisitivos, tampouco curiosidade com a minha presença. Mas o simples facto de eu estar ali punha à prova todos os meus preconceitos.
Cresci num ambiente culturalmente católico, como quase toda a gente que nascia em Castelo Branco na década de 80. Ser católico era tão certo como o calor no verão ou as procissões na Páscoa. E, tal como o calor e as procissões, também era certo nunca encontrar respostas para as inquietações existenciais de um miúdo reguila. Ou melhor, havia sempre respostas, mas raramente para as perguntas que eu fazia.
Como se vê, a minha relação com o espiritual é, desde há muito, pautada por um certo distanciamento crítico. Não se trata de uma rejeição pura e simples, mas antes de uma posição que, ao longo dos anos, se foi moldando entre a familiaridade e a hesitação, entre a imersão e o ceticismo. À distância, esse tempo e a fé que via nos outros não eram apenas um conjunto de crenças e práticas que me foram passando gradualmente ao lado. Mesmo sem a minha adesão, foram uma presença constante, deixaram marca, e a minha reação a tudo isso moldou a voz com que hoje falo sobre os assuntos da espiritualidade.
À medida que fui crescendo, esse universo de manifestações religiosas começou a parecer-me mais um teatro da devoção do que uma via de contacto genuíno com o transcendente. Passei a ver os rituais como formas, como estruturas, como encenações. E a pergunta que ficou foi: o que sobra, quando retiramos os dogmas? Há algo de essencial na experiência espiritual, para além das crenças?
Nos últimos meses, enquanto aluno do Mestrado em Etnomusicologia e Estudos em Música Popular da Universidade de Aveiro, tenho tentado, tanto quanto posso e consigo, adotar uma postura mais reflexiva, questionando não apenas o que observo, mas também a forma como me posiciono perante essas experiências. Foi com esse olhar que me aproximei da experiência que agora descrevo. Não em busca de fé, nem de uma revelação, mas para testemunhar e tentar compreender.
2. Os meninos que usam óculos sentam-se à frente
Eu não uso óculos, mas no que diz respeito ao conhecimento da Umbanda sou um miúpe de primeira: não vejo nada, não sei nada.
15 de março de 2025, 10:40
Cheguei ao local num dia soalheiro de primavera, um dia bonito, nada de nuvens pesadas, nada de brisas estranhas. Apenas uma fila de carros, uma faixa de terreno discreta numa área tendencialmente agrícola e uma entrada onde algumas pessoas esperavam, num misto de expectativa e descontração.
A dada altura, apareceu uma senhora de vestes soltas e lenço colorido na cabeça. Muito simpática, recolheu os nomes de cada um. Na minha vez, dei o meu nome e indiquei o meu propósito. Não recordo exatamente como disse, mas apresentei-me como músico, com muita curiosidade em conhecer a Umbanda no contexto do meu Mestrado, e que gostaria de assistir respeitosamente.
O portão abre-se e somos todos convidados a entrar. O jardim, bem cuidado, tem um caminho de pedrinhas que serpenteiam pela relva e contornam pequenos lagos artificiais, até uma arcada metálica onde nos espera um homem descalço, nos seus quarentas, vestido de branco, com um queimador de incenso na mão.
Ao passar pela arcada, percebi que a transição entre o mundo de fora e o espaço sagrado já estava a acontecer. A defumação era um processo físico que implicava parar, afastar os braços, rodarmos e sermos devidamente envolvidos por aquela fragrância ritualizada, com o cheiro igual ao das igrejas católicas. Um cheiro familiar, igual ao da minha memória de infância.
Uma dezena de metros à frente, junto à entrada do anexo caiado, todos se descalçam e deixam os seus pertences.
Entrei, fui dos últimos a entrar porque me demorei propositadamente com os sapatos e o casaco… Tinha agora a expectativa de encontrar um canto discreto, na retaguarda, que me protegesse da ação e me permitisse observar.
— O Sr. Nuno pode sentar-se aqui, neste banco — disseram-me, apontando para um banco logo à frente. E ali fiquei eu, exposto ao olhar de todos, visível. A minha intenção de observador invisível falhou logo ali.
A maior parte dos presentes permanecia de pé. Os lugares sentados eram apenas 4, e o facto de eu estar ali, num espaço central, parecia carregar uma carga simbólica que ainda não conseguia decifrar. Vim a saber que afinal sabiam mais de mim do que eu podia imaginar.
3. “Eu conheço o Nuno”
Antes da cerimónia propriamente dita começar, um momento de desconcerto. A Iá — diminutivo de Ialorixá, e a figura central da sessão — dirigiu-se ao público e explicou que se iria fazer um ritual iniciático, um batismo de um dos membros. A meio da explicação, virou-se para mim e disse:
— Eu conheço o Nuno.
Fiquei sem saber como reagir. Por um lado, aquele anonimato que eu valorizava tinha acabado de se desfazer. Por outro, pensei se haveria ali um verdadeiro reconhecimento. O que significava, afinal, aquele “conhecer”? Estava a referir-se à minha presença ali? A alguma outra ligação que eu desconhecia?
O momento passou, mas deixou uma marca. A sensação de estar a ser observado, de ser parte de um sistema de relações invisível, de que o meu simples estar ali já não era neutro.
4. “Espera”
As quatro percussionistas, ao fundo da sala branca, começam a tocar enquanto os presentes assistem, mas, pouco a pouco, a música vai-se tornando num acontecimento vivido em conjunto. Um bater de pé no chão, um dançaricar de ombros subtil. Também eu decidi não resistir ao contágio do ritmo e da pressão acústica. Embora não quisesse participar diretamente, optei por não rejeitar a experiência e aceitei o balançar e o bater das palmas.
Não me apercebi de qualquer possibilidade de outras pessoas tocarem – para além dos médiuns – mas há, ainda assim, uma participação crescente por parte dos presentes, que vão respondendo vocalmente, dançando e batendo palmas. Mais à frente, a distinção entre quem toca e quem ouve deixa de ser tão evidente, tal é a intensidade do estímulo visual e sonoro.
Desde o início do Mestrado, tenho cruzado cada vez mais referências académicas com situações do meu quotidiano e, nesta experiência em particular, encontrei em Thomas Turino (2008) um modelo especialmente revelador. Em Music as Social Life, Turino propõe dois modos de envolvimento: o apresentacional, onde intérpretes e público permanecem claramente separados, e o participativo, em que o foco não está no virtuosismo, mas na experiência coletiva. Na prática, estes modos raramente se manifestam de forma rígida ou exclusiva. Pelo contrário, e neste dia observei como se entrelaçam, oscilando consoante a energia do momento, a resposta dos participantes e a própria evolução da música. É precisamente nessa transição fluida entre um e outro que a experiência se torna mais envolvente, abrindo espaço para diferentes graus de participação. Também a proficiência técnica deixou de estar no centro das minhas observações, o que me leva a encarar a participação de múltiplos intervenientes com maior naturalidade e como parte integrante da experiência musical. É nesse crescendo de envolvimento dos participantes que as vozes ganham força. Oxalá e Iemanjá surgem nos cânticos, entre as palmas ritmadas e os batuques sonoros. Ogun é chamado para abrir caminhos, Xangô para trazer justiça, e Oxum, é saudada entre versos que falam de águas doces e prosperidade. Surpreendentemente para mim, as vozes cantam em português de Portugal. Os cânticos mudam a cada 4 ou 5 minutos, separados por um rufo livre de congas. Parece não haver uma referência tonal, e a cada cântico novo, o ajuste para a tessitura do coletivo pode demorar algo entre alguns segundos a minutos quando a melodia obriga a registos que desmoronam a tonalidade. Porém, a convicção nas vozes e a alegria são evidentes, indiferentes a este meu preciosismo burguês.
Os atabaques (eram congas tumbadoras, mas ouvi referirem-se a elas como atabaques) sustentam uma pulsação bastante firme e cíclica. Ao contrário do que se poderia esperar de uma prática de origem afro-brasileira, o ritmo é surpreendentemente direto, menos sincopado do que imagino. Com menos “chão” que um malhão, mas ainda longe do balanço de alguns dos ritmos afro-brasileiros mais comuns que julgo conhecer satisfatoriamente. Esperava talvez algo mais próximo do ijexá, do maracatu ou mesmo do samba de roda. Mas o que ouvi tinha um balanço mais ancorado, um fraseado rítmico que me remetia, curiosamente, para uma música tribal à portuguesa. Perdoem-me esta categorização frágil (e atrevida!), mas a fusão de influências era evidente.
A cerimónia prossegue. Entre batuques, cânticos e movimentos, chega o momento em que os presentes podem colocar as suas questões às entidades espirituais. A Iá explica que serão convocadas as entidades, e que os presentes podem colocar as suas questões através dos médiuns que agora começam a dançar e rodopiar num transe. Continuo sentado no meu banco, demasiado central para o meu gosto, uma posição que agora começa a afetar a minha tranquilidade. No entanto, a explicação que se segue traz-me algum alívio, ao esclarecer que a participação ativa nesta dança mediúnica é, de facto, voluntária.
Observo as primeiras interações sem me envolver. Cruzo os braços durante uns segundos e sou rapidamente alertado por um dos médiuns para os descruzar. Obedeço, faço as minhas melhores desculpas com uma expressão facial e reflito sobre a pressão cada vez menos subtil que este espaço exerce sobre mim. Vejo três pessoas aproximarem-se. Expressões algo ansiosas e olhares um pouco confusos. Também eu estou confuso. Muito. E depois, um momento que me marca verdadeiramente.
Uma das médiuns, de olhos semicerrados e cabelo já solto e armado com tanto rodopio estende os braços a uma senhora com bastante idade, que é assim chamada para o centro, para a minha frente. Caminha hesitante, sozinha e inicia-se uma série de abraços e uma dança lenta ao som do batuque. São segredadas coisas… as perguntas, certamente. As perguntas não são audíveis, mas, num vazio sonoro que entretanto se cria, ouço a resposta. A resposta é uma palavra apenas:
— Espera.
Nada mais. Apenas isso. E a senhora velhinha, de olhar confuso, faz aquele movimento com a cabeça, como quem não compreendeu. Senti, naquele gesto, algo que a minha imaginação preencheu rapidamente: uma história de perda. A senhora, sozinha, parecia carregar nos ombros o peso de um fardo invisível, algo que não sendo dito, se percebia no jeito lento do seu caminhar, na tristeza que transparecia no seu olhar. Uma saudade que se refletia na sua postura, no modo como ela se mantinha afastada do grupo, talvez como quem já se distanciou de tantas coisas. A palavra, simples e direta, parecia ser insuficiente para dissipar a solidão que a envolvia:
— Espera.
Nada mais. Apenas isso.
E naquele instante, tudo o que eu tinha estado a observar – os cânticos, os batuques, os movimentos – deixou de ser um espetáculo encenado diante mim e tornou-se algo profundamente humano. Não vi magia, não vi nenhuma entidade a manifestar-se através de um médium. Vi uma pessoa em busca de uma solução para a sua dor. Por mais céticos que sejam os meus olhos, foi um apelo humano que não pude deixar de sentir na pele.
5. A Banana… com Limão
Havia muitos elementos do ritual que me escapavam.
A certa altura, foram distribuídas frutas entre os presentes: mangas, bananas e maçãs. Algumas foram colocadas no chão, outras na cabeça, outras entregues diretamente na mão.
A Iá, que até então tinha uma voz serena e muito afável, mudou de timbre e tornou-se estridente. Aproximava-se de cada pessoa e interagia de uma forma que eu não conseguia compreender. Os abraços – ombro a ombro, alternadamente – sucediam-se, os seus movimentos imprevisíveis e os risinhos soltos, agudos, que soltava pelo meio das deslocações de pessoa para pessoa voltaram a desafiar o meu olhar e o meu filtro crítico.
A mim, entregaram-me uma banana e fiquei uns bons 20 minutos a questionar-me para que serviria, restando-me ver o desenrolar destas abordagens. De vez em quando lá olhava para a banana. Tamborilava na banana. Mudava de mão. Colocava-a atrás das costas. O que fazer com aquilo? Esta dádiva era um gesto simbólico? Um gesto de inclusão? Ou um desafio ao meu próprio ceticismo? E tamborilava outra vez na banana ao ritmo dos atabaques.
Até que a Iá vem lá do fundo da sala até mim e me dá um abraço. Não, dois, ou três… afinal eram muitos abraços, daqueles, ora um lado ora outro, que eu estava antes a observar mas que nem assim aprendi e fiquei descompassado com ela. A tal voz aguda soltou-se no meu ouvido:
— Come esta banana…
Fez-se uma pausa estranha que chegou a ser desconfortável – estou certo que também o foi para ela.
— …com limão.
6. “A magia está no som”
A sessão acabou como começou: gradualmente, como um retorno à realidade. No final, percebi que é comum algumas pessoas dirigirem-se à Iá para esclarecerem as suas dúvidas levantadas pelas respostas quase monossilábicas das entidades. Olhos confusos, dedos nervosos, faces chorosas, vão um a um ter com a figura máxima de todo este ritual, uma mulher com aproximadamente 40 anos, com uma voz suave e um discurso articulado. Não há risinhos soltos nem timbres estridentes, esses ficaram para trás, há já 30 minutos.
Não é fácil reconstituir mentalmente as mais de duas horas que durou a sessão quando não me é permitido usar qualquer dispositivo de gravação de áudio ou vídeo. Compreendo e não fiz nenhuma insistência para gravar, mas agora, aproveitei a espera para despejar tudo o que me lembrava para o caderno que tinha na mochila. Um pequeno conjunto de palavras – Orixás, Iemanjá, Xangô, Oxum – e fragmentos de ritmos, que foram sendo rabiscados nos intervalos das conversas com os músicos.
Após serem atendidos todos os esclarecimentos tive finalmente a oportunidade de me dirigir à Iá.
— Eu conheço-te! — Tratou-me por “tu”, o que me fez sentir logo bem. Fiquei aliviado, acho – Não tens um grupo de música? Eu sigo-vos nas redes sociais.
Esperava um contacto com tom mais formal, em que iria manifestar o meu agradecimento e desejaria os maiores sucessos, mas saiu-me o melhor quebra-gelo de todos. Fomos para o exterior e os 40 minutos que se seguiram – qual hora de almoço! – foram passados numa animada conversa, no jardim, a aproveitar o sol e a companhia. E, ao contrário de tudo o que eu poderia ter imaginado, a conversa não girou em torno de religião, entidades, nem de forças sobrenaturais. Falámos de lugares, de viagens, e falámos de música. O mais próximo de algo espiritual que podemos ter abordado terá sido sobre a força da música para dar acesso a estados de espírito.
Agradeci pelo facto de me ter deixado viver esta experiência, sobretudo pela generosidade de me colocar no centro das práticas sabendo que eu iria assistir de forma não motivada pela religião. Dei os parabéns ao saber que compõem algumas das músicas que executam e pela alegria como lidam com as diferentes formas de frequentar aquele espaço.
Por fim, disse-me:
— Não há nada de mágico nisto. A magia está no som. A magia somos nós que a criamos. E é tudo energia.
Foi um momento inesperado. Não por ser exótico, mas por finalmente me rever nele. No meio de tudo o que tinha testemunhado, entre os rituais e os gestos que me eram estranhos, foi nesta conversa que encontrei algo genuinamente próximo de mim.
Aquele era um discurso que eu compreendia. Não me falava de forças ocultas, mas de experiências sonoras. Não me pedia crença, mas sim escuta.
Mais do que questionar se a experiência que tive é real ou encenação, mais do que suspender a minha descrença para me permitir uma experiência de choque cultural ou de confronto com crenças distintas, pergunto-me “o que é que esta experiência significou”? O que me marcou não foi o ritual em si, mas a forma como as pessoas se inserem nele. Seja para atenuar o sofrimento, seja pela busca por respostas, pela performance e ritualismo, ou pela alegria de festejar a vida. A minha perceção mantém-se cética no que toca à componente transcendental, mas não se fecha ao valor humano e ao poder do som como chave para aceder a estados de alma mais elevados.
7. Considerações finais
Fui gentilmente autorizado a partilhar a minha experiência sem restrições, no entanto, os detalhes exatos sobre o local e as pessoas não são revelados, de forma a preservar a discrição.
8. Referências bibliográficas
Turino, T. (2008). Music as social life : the politics of participation. The University of Chicago Press.